Esta é fácil. Quando nos esculpiu em barro –vamos fingir que foi assim para encurtar a história–, o Criador nos deu dois ouvidos e uma boca para que nós ouvíssemos mais do que falamos. Só por aí já dá para concordar que Ele é perfeito.
Falar somente o que é necessário, conveniente, agradável, produtivo, positivo, é uma grande contribuição que cada ser humano pode dar para o bem comum.
Da mesma forma, ouvir o máximo possível, fazendo as palavras chegarem até o cérebro e, lá, serem decodificadas, analisadas, ponderadas, é ainda mais importante para que possamos compreender o mundo em que nós vivemos.
Na política brasileira dos dias atuais, porém, fica a impressão de que, tanto a classe política quanto a população possuem duas bocas e um só ouvido. E, pior ainda, nem usam o nariz para sentir que há algo de podre no ar.
Você poderá dizer que os políticos antigos eram tão falastrões quanto os atuais. Vou discordar. Falavam sim, mas mediam a repercussão do que iriam falar. Talvez porque a política brasileira da época era praticada por gente letrada, intelectuais, juristas –com exceções, é claro, mas de breve lembrança.
Os grandes nomes da política do passado tinham o dom da oratória, a sensibilidade aflorada, o gosto pelo debate de qualidade. Estamos falando de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Carlos Lacerda, Rui Barbosa, Jânio Quadros, entre outros.
Depois deles, veio a geração forjada pelo golpe cívico-militar de 1964. Foi um período em que a palavra dos governantes ficou mais restrita, com a substituição dos belos discursos por outros, repletos de “pistas” e mistérios sobre o que se queria dizer, mas em linguagem cifrada, reservada aos bons entendedores, aos iniciados.
Isto ocorria porque general não foi formado para subir em palanque, mas para cumprir planos, metas, além de dar e receber ordens. Por isso, seus discursos, também conhecidos como pronunciamentos, eram escritos por intelectuais, mas cheios de cuidados para não colocarem na boca dos generais-presidentes nada além do absolutamente necessário.
Quem duvidar desse período de poucas palavras da política brasileira, tente pesquisar quantas entrevistas cada presidente do período militar concedeu à imprensa. A maioria pôde contar essas entrevistas nos dedos de uma só mão.

Quem fala demais…
Com a redemocratização do país, a partir de 1985, os líderes das várias correntes de opinião que passaram a disputar o voto dos brasileiros tiveram que ampliar o número de declarações, entrevistas, discursos e debates para se adequarem a uma época de crescimento dos meios de comunicação. Mas, mesmo assim, José Sarney e Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, optavam por valorizar esses momentos. Sarney até disse, em uma ocasião, que tinha a obrigação de preservar a “liturgia do cargo” de presidente da República.
Veio Fernando Collor de Mello, o jovem que começou sendo elogiado até pelo presidente dos Estados Unidos, que comparou sua postura à de um Indiana Jones. Porém, todo o “verbo” de Collor acabou sendo usado na tentativa de defender-se do desastre ético e moral que destruiu seu governo. No final, quando já estava perdendo o cargo, chegou a ser motivo de piada ao usar um paupérrimo portunhol em uma entrevista a jornalistas argentinos.
Fernando Henrique veio em seguida e deu brilho acadêmico aos pronunciamentos à Nação, porém recebendo mais elogios dos intelectuais do que da massa menos letrada. De qualquer maneira, FHC foi sucesso mundial e visto como um estadista em boa parte do mundo.
A era Lula, diferentemente do que muita gente pensava –ou gostaria–, não foi um desastre de comunicação. O ex-metalúrgico podia não ser um intelectual, mas mostrou sensibilidade política e soube ouvir os seus assessores para projetar uma imagem positiva, que também rompeu as barreiras do país e lhe deu projeção mundial. Pena que, aos poucos, surgiram muitos fatos a explicar e as palavras já não fossem suficientes. Seus “discursos” saíram dos palácios e foram parar nos tribunais.

Sobre a presidente Dilma Roussef, infelizmente, os memes que até hoje circulam nas mídias sociais falam por ela. Raciocínio confuso, palavras soltas sem o menor nexo, insegurança, antipatia, arrogância, fizeram da primeira “presidenta” do Brasil um fracasso como comunicadora.
Depois de um período quase tranquilo entregue ao jurista e professor universitário Michel Temer, que “tirou de letra” a sua missão de explicar a transição até uma nova eleição, chegamos até onde estamos agora. Sim, chegamos ao presidente Jair Bolsonaro.
Dele, pode-se dizer, no mínimo, que não imitou ninguém que o antecedeu no cargo. Conseguiu romper relações com a imprensa, se expôs aos seus simpatizantes com declarações estapafúrdias proferidas do lado de fora de um automóvel, colado em uma espécie de “cercadinho”.
Cada declaração sua é um convite à crise, é uma insinuação de que algo de muito perigoso pode estar vindo por aí. Conseguiu se “igualar” ao seu próprio intérprete de libras na disputa por espaço em uma solenidade.
Aí você vai dizer: “Mas por que o Bolsonaro faz isso? Será que ninguém diz a ele que esta não é postura de um presidente da República?” E aí eu vou te dizer: É claro que ele sabe que exagera, é claro que ele saberia conter os seus ímpetos –mesmo sem mudar suas convicções, apenas escondendo-as. Mas sabe por que ele não o faz? Porque ele diz exatamente o que seus simpatizantes querem ouvir.
Entendeu? O presidente Bolsonaro é uma espécie de refém do bolsonarismo. Sem o seu estilo grosseiro, provocador, limitado intelectualmente, ele não seria o líder de milhões de pessoas que o querem exatamente assim.
Faltam menos de 15 dias para o primeiro turno destas eleições. Até lá, parece que vai valer tudo em matéria de declaração por parte dos candidatos. Eles vão dizer o que querem. E depois, é óbvio, colocarão a culpa na “mídia lixo” por “deturpar” as suas palavras.
Quem vencer, vai esquecer a choradeira. Mas quem perder vai dizer que a mídia não vale nada. Puro choro de perdedor…
> Wagner Matheus é jornalista (MTb nº 18.878) há 46 anos. É editor do SuperBairro. Mora na Vila Guaianazes há 20 anos.


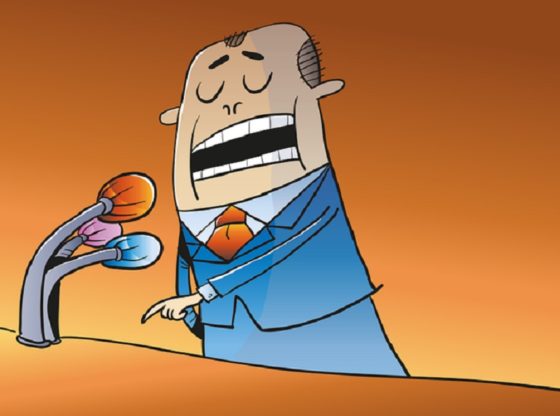 Ilustração / Pixabay
Ilustração / Pixabay 
