“Duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana. Mas, em relação ao universo, ainda não tenho certeza absoluta.”
Albert Einstein
A frase acima, atribuída a um dos cérebros mais geniais já colocados em funcionamento em nosso planeta, torna-se a cada dia mais profética e verdadeira. Isso vem acontecendo, em maior ou menor grau, no mundo inteiro, mas no Brasil está ultrapassando qualquer limite.
Hoje pela manhã, ao abrir meus e-mails e ficar por dentro das novidades, tomei conhecimento da prorrogação do prazo de vacinação contra a poliomielite em todo o país, que agora irá até o final deste mês. O motivo é trágico: parece que nenhum pai ou mãe quer mais vacinar seus filhos com “a gotinha que salva”, como era conhecido o imunizante desenvolvido pelo médico russo Albert Sabin.
Sabin dedicou 25 anos de sua vida à pesquisa da vacina, o que conseguiu em 1960. A partir do ano seguinte, a vacina começou a ser aplicada e salvar vidas em todo o planeta. Produzida a partir do vírus atenuado, a Sabin substituiu com vantagens a vacina Salk que era produzida com o vírus morto e, apesar de evitar algumas complicações da doença, era pouco eficiente na prevenção.
Na minha infância, vivida em um bairro de classe baixa da cidade de São Paulo, a Vila Ema, era comum a existência, nas turmas de amigos da rua e da escola, de crianças deformadas nas pernas ou nos braços por causa da paralisia infantil, nome popular que se dava à poliomielite.
Tenho vivas na memória cenas de crianças correndo durante as brincadeiras e, quase sempre, uma ou duas manquitolando no meio dos amigos saudáveis. Aquelas crianças haviam nascido na década de 1950, quando a vacina de Sabin ainda não existia, o que, repito, viria a acontecer a partir dos anos 60.
Depois de 1961 ou 62, todo ano a vacina era “religiosamente” aplicada em todas as crianças na idade indicada. A maioria recebia na escola. Um belo dia, a criança ia pensando que era um dia normal de aula e se deparava com a equipe de vacinação. Como se dizia antigamente, não tinha “choro nem vela”, ninguém perguntava se a gente queria tomar a vacina, tinha de entrar na fila e assunto encerrado. Os pais só ficavam sabendo da vacinação quando a criança chegava em casa e comentava o assunto.
Isso não ocorria somente com a gotinha aplicada via oral. Outras vacinas também eram dadas da mesma forma, sem mimimi, sem manha. Até mesmo aquelas aplicadas com uma pistola de pressão, que aterrorizava a todos. Alguns tentavam fugir –inutilmente–, outros passavam mal de puro medo do “tiro” que a pistola disparava. Se não me engano, as vacinas da década de 70 protegiam contra o tétano e, a partir de 1975, contra a meningite.
A vacina contra meningite trouxe um grande alívio. Em 1974, cerca de 2.500 pessoas morreram durante um surto da doença na cidade de São Paulo. O problema foi agravado porque na época a imprensa vivia sob rigorosa censura, aplicada pelo regime militar que governava o país, e por isso a população desconhecia o surto, as mortes e a necessidade de prevenção contra a doença. Com a vacina, o número de casos baixou rapidamente e, em 1977, a situação já estava controlada.

Voltando ao início deste texto, soube hoje pela manhã da prorrogação do prazo de vacinação contra a poliomielite. Ao mesmo tempo, fiquei estarrecido com o índice de cobertura vacinal das crianças entre 1 ano e 4 anos, 11 meses e 29 dias. Acredite se quiser, das 41.404 crianças nessa faixa de idade em São José dos Campos, até o último dia 14 apenas 6.554 haviam recebido sua dose. A cobertura vacinal, portanto, está em ridículos 15,82%, quando a meta das autoridades de saúde seria chegar a 95% em todo o país.
Entre os anos de 1968 e 1989, o Brasil registrou 26.000 casos de paralisia infantil. Até que, no dia 19 de março daquele ano, foi registrado o último caso da doença no país. Porém, a pólio ainda é endêmica no Afeganistão, Nigéria e Paquistão, significando que o risco de reintrodução do vírus no Brasil e em outros países ainda existe.
Finalmente, fico pensando o que faz um pai e/ou uma mãe de criança com menos de cinco anos de idade não pedir para ela abrir a boca e receber uma gotinha quase imperceptível, mas de uma importância gigantesca.
Fico pensando também, voltando à frase de Einstein lá do início deste texto, que este mundo moderno está precisando urgentemente de uma vacina contra a estupidez humana. Mas talvez a vacina não seja a solução: a maioria não vai querer tomar.
> Wagner Matheus é jornalista (MTb nº 18.878) há 48 anos. É editor do SuperBairro. Mora na Vila Guaianazes há 23 anos.

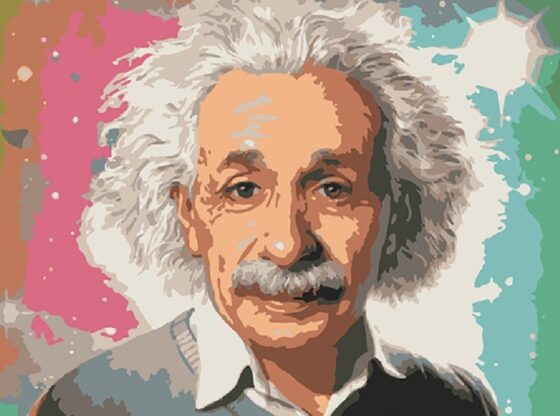 Ilustração / Pixabay
Ilustração / Pixabay 
